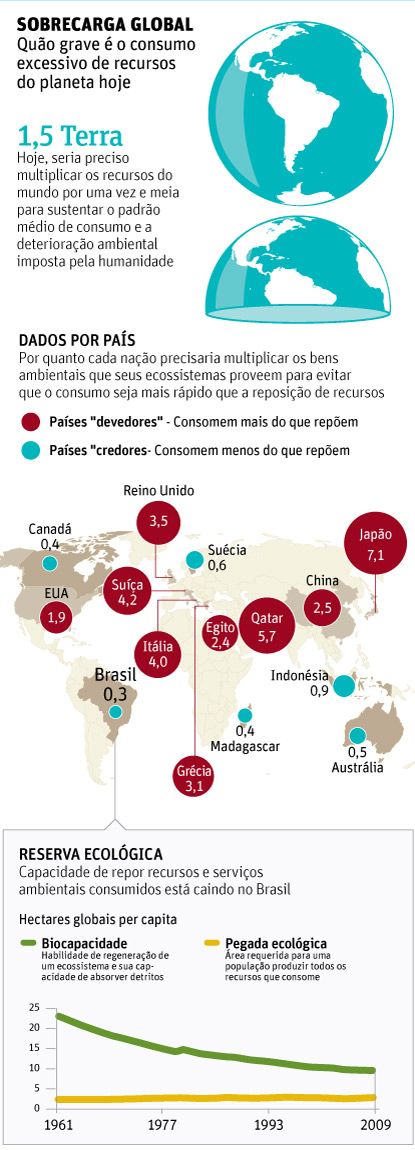Dois anos depois da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 2010, a
coleta seletiva, prevista na lei, estava presente apenas em 18% dos municípios
brasileiros. E, nas cidades onde ela já estava implementada, a quantidade de
material recuperado nesses programas ainda era pequena quando comparado com o
total coletado. Os dados constam no levantamento Plano Nacional de Resíduos Sólidos: Diagnóstico dos Resíduos
Urbanos, Agrosilvopastoris e a Questão dos Catadores, divulgado
nesta quarta-feira, 25 de abril, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea).
A boa notícia é que a coleta seletiva aumentou 120% nas 994 cidades que
mantinham esse programa entre 2000 e 2008. Apesar do incremento das ações,
o estudo mostra que, no caso dos metais, por exemplo, das 9,8 milhões de
toneladas de resíduos reciclados em um ano, apenas 0,7% foi recuperado pela
coleta seletiva. Na reciclagem de 3,8 milhões toneladas de papel e papelão, a
coleta seletiva respondeu por 7,5% e, no caso do plástico (962 mil
toneladas/ano) e vidro (489 mil toneladas/ano), a recuperação dos materiais a
partir da coleta seletiva foi pouco maior que 10%.
De acordo com o Ipea, os números indicam que “a reciclagem no país ainda
é mantida pela reciclagem pré-consumo e pela coleta pós-consumo informal”.
Em relação à coleta regular total, o levantamento mostra que a cobertura
no país vem crescendo e alcançou, em 2009, 90% dos domicílios do país. A
distribuição, entretanto, revela uma desigualdade entre a área urbana, onde a
coleta supera o índice de 98%, e as áreas rurais, onde a cobertura ainda não
atinge 33%.
“A geração de resíduos sólidos urbanos tende a aumentar não apenas com o
aumento da população, mas também com o aumento da renda, principalmente quando
estratos da população que tinham acesso muito restrito a produtos
industrializados e embalados ganham poder de compra”, alerta o documento.
Lixões ainda preocupam
De acordo com o estudo do Ipea, mais de 74 mil toneladas de resíduos
sólidos ainda são encaminhadas, diariamente, para os lixões do país ou para
aterros controlados – antigos lixões que passaram por melhorias para virarem
aterros. Apesar de o volume ainda ser significativo, o levantamento aponta uma
redução de 18%, em oito anos, nesse tipo de destinação de resíduos.
Os municípios brasileiros devem eliminar os lixões até 2014, segundo estabelece a PNRS. A
menos de dois anos do prazo final, o relatório aponta a existência de 2,9 mil
áreas como essas distribuídas em quase 3 mil municípios. “Os consórcios
públicos para a gestão dos resíduos sólidos podem ser uma forma de equacionar o
problema dos municípios que ainda têm lixões como forma de disposição final”,
sugerem os pesquisadores do Ipea.
O levantamento mostra ainda que a quantidade de resíduos e rejeitos
dispostos em aterros sanitários aumentou 120%, entre 2000 e 2008. “Os
municípios de pequeno e médio porte apresentaram acréscimos significativos na
quantidade total de resíduos e rejeitos dispostos em aterros sanitários”,
acrescenta. Para o instituto, esse incremento pode ser resultado do recebimento
de resíduos produzidos, coletados ou gerados nos municípios de grande porte.
O Ipea ainda alerta para o problema do resíduo orgânico, que não é
coletado separadamente no país. “Essa forma de destinação gera despesas que
poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse separada na fonte e
encaminhada para um tratamento específico, por exemplo, para compostagem”,
sugere.
Segundo o levantamento, do total estimado de resíduos orgânicos que são
coletados (94 mil toneladas por dia), apenas 1,6% é encaminhado para tratamento
em usinas de compostagem, que controlam a decomposição desses materiais para
obter um material final rico em nutrientes que pode ser usado como adubo, por
exemplo.
“No geral, pode se afirmar que as maiores deficiências na gestão dos
resíduos sólidos encontram-se nos municípios de pequeno porte, com até 100 mil
habitantes, e naqueles localizados na região Nordeste”, avalia o relatório.
Fonte: EcoDesenvolvimento