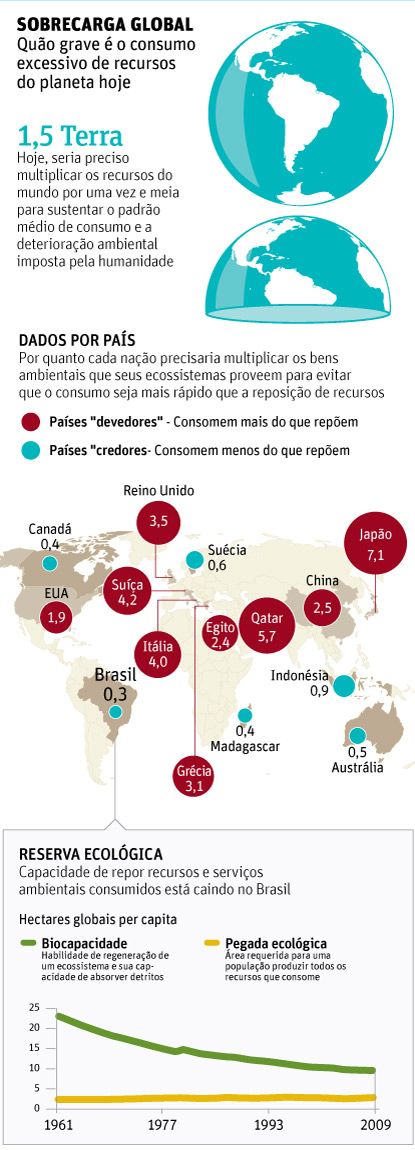
Se a humanidade se comprometesse a consumir a cada ano só os recursos
naturais que pudessem ser repostos pelo planeta no mesmo período, em 2013
teríamos de fechar a Terra para balanço hoje, 20 de agosto. Essa é a estimativa
da Global Footprint Network, ONG de pesquisa que há dez anos calcula o
"Dia da Sobrecarga".
Neste ano, o esgotamento ocorreu mais cedo do que em 2012 (22 de
agosto), e a piora tem sido persistente. "A cada ano, temos o Dia da
Sobrecarga antecipado em dois ou três dias", diz Juan Carlos Morales,
diretor regional da entidade na América Latina.
Para facilitar o entendimento da situação, a Global Footprint Network
continua promovendo o uso do conceito de "pegada ambiental", uma
medida objetiva do impacto do consumo humano sobre recursos naturais.
No Dia da Sobrecarga, porém, expressa-o de outra maneira: para sustentar
o atual padrão médio de consumo da humanidade, a Terra precisaria ter 50% mais
recursos.
Para fazer a conta, a ONG usa
dados da ONU, da Agência Internacional de Energia, da OMC (Organização Mundial
do Comércio) e busca detalhes em dados dos governos dos próprios países.
O número leva em conta o consumo global, a eficiência de produção de
bens, o tamanho da população e a capacidade da natureza de prover recursos e
biodegradar/reciclar resíduos. Isso é traduzido em unidades de "hectares
globais", que representam tanto áreas cultiváveis quanto reservas de
manancial e até recursos pesqueiros disponíveis em águas internacionais.
A emissão de gases de efeito estufa também entra na conta, e países
ganham mais pontos por preservar florestas que retêm carbono.
Apesar de ter começado a calcular o Dia da Sobrecarga há uma década, a
Global Footprint compila dados que remontam a 1961. Desde aquele ano, a
sobrecarga ambiental dobrou no planeta, e a projeção atual é de que precisemos
de duas Terras para sustentar a humanidade antes de 2050. A mensagem é que esse
padrão de desenvolvimento não tem como se sustentar por muito tempo.
"O problema hoje não é só proteger o ambiente, mas também a
economia pois os países têm ficado mais dependentes de importação, o que faz o
preço das commodities disparar", diz Morales. "Isso ocorre porque os
serviços ambientais [benefícios que tiramos dos ecossistemas] já não são
suficientes".
BRASIL "CREDOR"
No panorama traçado pela Global Footprint Network, o Brasil aparece
ainda como um "credor" ambiental, oferecendo ao mundo mais recursos
naturais do que consome. Isso se deve em grande parte à Amazônia, que retém
muito carbono nas árvores, e a uma grande oferta ainda de terras agricultáveis
não desgastadas.
Mas, segundo a ONG WWF-Brasil, que faz o cálculo da pegada ambiental do
país, nossa margem de manobra está diminuindo (veja quadro à dir.), e exibe
grandes desigualdades regionais. "Na cidade de São Paulo, usamos mais de
duas vezes e meia a área correspondente a tudo o que consumimos", diz
Maria Cecília Wey de Brito, da WWF. O número é similar ao da China, um dos
maiores "devedores" ambientais.
Fonte: Folha de S. Paulo.




